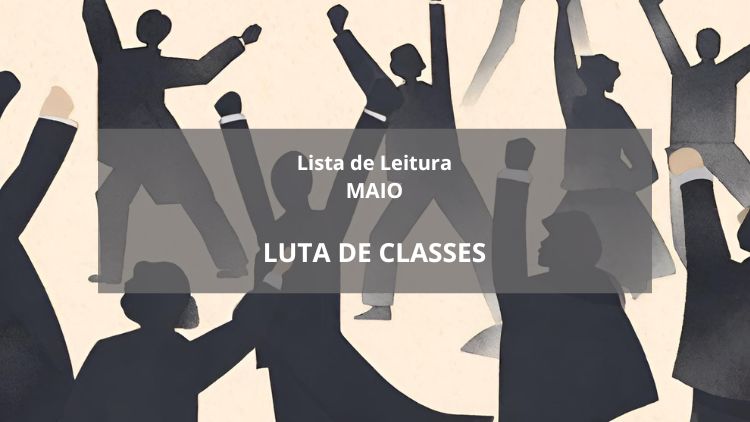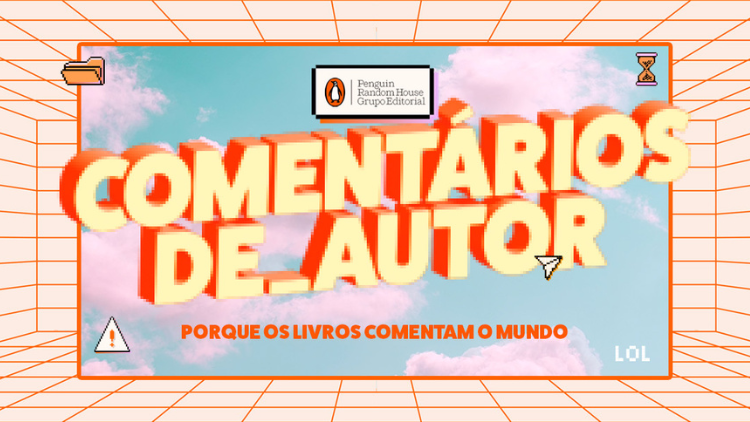É um fenómeno literário mundial, vendeu milhões de livros em mais de 30 países e as suas obras devoram-se a uma velocidade alucinante – mesmo quando têm mais de 700 páginas, como acontece com O caso Alaska Sanders, o mais recente livro de Joël Dicker. Estes dados já quase toda a gente conhece. O que poucos sabem é que estudou Direito, foi assessor parlamentar, investiu numa chocolataria e criou uma banda onde tocava bateria. Aos 37 anos, o escritor suíço percebeu que talvez não consiga estar em todas as frentes e à Penguin Magazine explicou porquê.
A ideia para uma trilogia existia desde o início mas abandonou-a. Porquê?
Uma continuação para A verdade sobre o caso Harry Quebert era algo que tinha em mente há dez anos. O que abandonei foi a ideia de fazer logo o volume dois. Com o sucesso do volume um, achei que seria má ideia fazer logo o segundo porque as pessoas pensariam que era uma coisa fácil. Portanto, esperei e pus-me a fazer o número três, que é O livro dos Baltimore. Para mim, sempre foi claro que esse era o volume três mas também não tinha a certeza se alguma vez viria a escrever o segundo volume. Não tinha uma história em mente, apenas a vontade de ligar as carruagens entre Harry Quebert e os Baltimore. Havia outras duas coisas que queria contar, as duas amizades. No final de A verdade sobre o caso Harry Quebert há uma amizade que termina, ou que pelo menos está numa fase muito difícil: a relação entre Marcus Goldman e Harry Quebert. A segunda é a amizade entre Marcus Goldman e Perry Gahalowood, que no final do livro são amigos. Foi esse o ponto de partida para O caso Alaska Sanders.
Quando lhe perguntam qual a ordem para ler estes três livros, há uma resposta correta?
Cada história pode ser lida como quisermos. Se seguirmos a linha cronológica, seria A verdade sobre o caso Harry Quebert, O caso Alaska Sanders e O livro dos Baltimore mas lêem-se em qualquer ordem.
Quando escreveu A verdade sobre o caso Harry Quebert tinha em mente um romance à americana, muito cinematográfico. Como preparou tudo isso?
Relatei uns Estados Unidos que conhecia bem, porque passei todos os verões em casa dos meus primos, nos EUA, no Maine. Quando comecei a escrever, estava no Maine e percebi que nunca tinha levado aquele ambiente que conhecia tão bem para as minhas histórias. Não era o sítio onde eu vivia, portanto havia esse distanciamento, mas era uma realidade muito familiar. A distância foi-me útil porque permitiu-me entrar no mundo da ficção para contar uma história que não era a minha.
Voltando um pouco atrás, O tigre teve um enorme sucesso. Em Portugal foi recentemente incluído no Plano Nacional de Leitura. Escreveu-o muito jovem. Há muitos autores que não gostam ou não conseguem ler o que escreveram no início da carreira. É o seu caso?
Falo sempre de O Tigre como um texto que escrevi quando era jovem e é preciso olhar para ele dessa forma, aceitá-lo com as qualidades e os defeitos da juventude. Tinha 19 anos, ganhei um prémio com ele e o mais engraçado é que em Espanha tiveram a ideia de o publicar num pequeno livro ilustrado – coisa que nunca me tinha passado pela cabeça. Estavam muito entusiasmados e ficou muito bonito. O meu editor na altura, o Bernard de Fallois, de quem eu gostava muito, disse-me: “Temos de o fazer também”. Entretanto o Bernard morreu e eu tinha também vontade de o fazer como homenagem.
Cresceu no meio literário, com uma mãe livreira e um pai professor. Quais são as memórias mais longínquas da sua infância?
São realmente das histórias que me contavam, os livros que os meus pais liam antes de eu ir para a cama. Foi o meu primeiro passo no prazer das histórias e da leitura.
«Tive dúvidas se poderia viver da escrita, por isso estudei Direito.»
Criou a Gazeta dos Animais aos dez anos. Em que é que consistia?
Era uma revista sobre animais que escrevia todos os meses e que tinha notícias sobre a natureza e os animais.
Vendia-o à família e aos amigos?
Exatamente, com uma mensalidade. Era mais barata do que o custo para produzir, porque eu não era muito dotado nesse campo, mas eu adorava. Foi o meu primeiro contacto com a ideia de escrever um texto que podia ser lido mais tarde, como se estivesse vivo. Na época tínhamos um computador para toda a família. Eu escrevia o meu texto, imprimia-o, enviava-o aos leitores e depois recebia mensagens que diziam: “Querido Joël, li o teu artigo sobre os cães/ratos…” Era muito interessante. Estava fascinado com as vidas todas de um texto: vivia no momento em que o escrevíamos, quando o relíamos e continuava a viver através de todos os que o liam e me escreviam mais tarde.
Ser escritor sempre foi o seu plano, mesmo estudando Direito e sendo assessor parlamentar?
É difícil afirmá-lo dessa forma. Sabia que a escrita faria sempre parte da minha vida. Tive dúvidas se poderia viver disso, por isso estudei Direito. Queria ter um diploma e outras possibilidades. Sempre tive a noção de que tínhamos de ter vários frutos na nossa árvore para podermos ter escolha. Aos 20 anos também não temos a certeza do que queremos fazer para a vida toda. Portanto, quantas mais possibilidades temos, mais livres somos.
A experiência no Parlamento também lhe deu histórias para escrever?
Nem por isso. A vida é sempre mais incrível do que a ficção e, por vezes, mais difícil de acreditar.
Entretanto fundou uma editora e investiu numa chocolataria?
Sim, agora há outra pessoa à frente do projeto mas, sim, aconteceu [risos].
Também criou um grupo musical, onde toca bateria. Como é que gere isso tudo?
Deixei um pouco a música porque, infelizmente, não posso fazer tudo. Também não giro diretamente a chocolataria. Há coisas que tenho de ir largando.
«Tenho um método que é não ter método. Isso condiciona-nos.»
Quando está no meio do processo de escrita, é muito organizado?
Tenho um método que é não ter método, justamente porque me permite ser mais livre naquilo que quero fazer. Se tivesse um plano delineado à partida, isso impedir-me-ia de descobrir histórias e personagens. Gosto de não saber o que me espera, isso permite-me saber também se tenho ou não vontade de escrever aquele livro. Há textos que nos apaixonam quando os escrevemos mas, ao haver um plano, é ele que nos guia, que nos condiciona, e não nos deixa ter a certeza da nossa paixão.
O caso Alaska Sanders, é um livro enorme, levou muito tempo a escrever. Teve bloqueios?
Tenho sempre mas também é graças aos bloqueios e às dificuldades que o livro se escreve, porque fazemos as perguntas certas que nos permitem avançar.
Quando finalmente termina um livro, tem de fazer o luto antes de começar a escrever o seguinte?
Sim, é preciso algum tempo para deixar partir as personagens e descobrir em nós novas histórias e vontades. Mas o luto é bom, quer dizer que trabalhámos bem. Neste momento não estou a escrever, talvez daqui a algumas semanas. Tenho um bloco onde anoto coisas constantemente, mas as melhores ideias são aquelas que não anotamos. Se nos ficam na cabeça sem precisarmos de as passar para o papel significa que são as vencedoras.